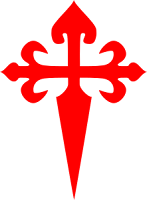Diego Velázquez
AS Meninas por Michel Foucault.
Óleo sobre tela 1659, 318 x 276 cm
Apesar da grande quantidade de escritores de qualquer gênero que buscaram uma significação definitiva, enquanto não apareça documentação concludente devemos admitir que nenhuma interpretação individual poderá dar resposta aos problemas implicados em As Meninas. Vários historiadores opinam que, como boa obra barroca, esconde vários mensagens.
Aqui segue uma das informações, encontradas na Wikiwand:
Ordem de Santiago
A Ordem Militar de Santiago é uma ordem religiosa-militar de origem castelhano-leonesa, atualmente Ibérica instituída por Afonso VIII de Castela e aprovada pelo Papa Alexandre III, mediante uma bula outorgada em 5 de Julho de 1175. Tornando-a assim uma ordem supranacional, directamente responsável perante o chefe máximo da Cristandade.
Texto de Michel Foucault publicado no blog https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/11/14/las-meninas-michel-foucault/:
O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em
direção ao modelo; talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é
possível também que o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado.
O braço que segura o pincel está dobrado para a esquerda, na direção da
palheta; permanece imóvel, por um instante, entre a tela e as cores.
Essa mão hábil está pendente do olhar; e o olhar, em troca, repousa sobre
o gesto suspenso. Entre a fina ponta do pincel e o gume do olhar,
o espetáculo vai liberar seu volume.
Não sem um sistema sutil de evasivas. Distanciando-se um pouco,
o pintor colocou-se ao lado da obra na qual trabalha. Isso quer dizer que.
para o espectador que no momento olha, ele está à direita de seu quadro,
o qual ocupa toda a extremidade esquerda. A esse mesmo espectador o quadro
volta as costas: dele só se pode perceber o reverso, com a imensa armação que
o sustenta. O pintor, em contrapartida, é perfeitamente visível em toda a sua
estatura; de todo modo, ele não está encoberto pela alta tela que, talvez, irá
absorvê-lo logo em seguida, quando, dando um passo em sua direção, se
entregará novamente a seu trabalho; sem dúvida, nesse mesmo instante, ele
acaba de aparecer aos olhos do espectador, surgindo dessa espécie de grande
gaiola virtual que a superfície que ele está pintando projeta para trás. Podemos
vê-lo agora, num instante de pausa, no centro neutro dessa oscilação. Seu talhe
escuro, seu rosto claro são meios-termos entre o visível e o invisível: saindo
dessa tela que nos escapa, ele emerge aos nossos olhos; mas quando, dentro
em pouco, der um passo para a direita, furtando-se aos nossos olhares, achar-se-á
colocado bem em face da tela que está pintando; entrará nessa região onde seu
quadro, negligenciado por um instante, se lhe vai tornar de novo visível, sem
sombra nem reticência. Como se o pintor não pudesse ser ao mesmo tempo
visto no quadro em que está representado e ver aquele em que se aplica a
representar alguma coisa. Ele reina no limiar dessas duas visibilidades
incompatíveis.
O pintor olha, o rosto ligeiramente virado e a cabeça inclinada para o ombro.
Fixa um ponto invisível, mas que nós, espectadores, podemos facilmente
determinar, pois que esse ponto somos nós mesmos: nosso corpo, nosso rosto,
nossos olhos. O espetáculo que ele observa é, portanto, duas vezes invisível:
uma vez que não é representado no espaço do quadro e uma vez que se situa
precisamente nesse ponto cego, nesse esconderijo essencial onde nosso olhar se
furta a nós mesmos no momento em que olhamos. E, no entanto, como poderíamos
deixar de ver essa invisibilidade, que está aí sob nossos olhos, já que ela tem
no próprio quadro seu sensível equivalente, sua figura selada? Poder-se-ia,
com efeito, adivinhar o que o pintor olha, se fosse possível lançar os olhos sobre
a tela a que se aplica; desta, porém, só se distingue a textura, os esteios na
horizontal e, na vertical, o oblíquo do cavalete. O alto retângulo monótono que
ocupa toda a parte esquerda do quadro real e que figura o verso da tela
representada reconstituiu, sob as espécies de uma superfície, a invisibilidade
em profundidade daquilo que o artista contempla: este espaço em que nós
estamos, que nós somos. Dos olhos do pintor até aquilo que ele olha, está
traçada uma linha imperiosa que nós, os que olhamos, não poderíamos evitar:
ela atravessa o quadro real e alcança, à frente da sua superfície, o lugar de
onde vemos o pintor que nos observa; esse pontilhado nos atinge
infalivelmente e nos liga à representação do quadro.
Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de pura reciprocidade:
olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla.
Nada mais que um face-a-face, olhos que se surpreendem, olhares retos que,
em se cruzando, se superpõem. E, no entanto, essa tênue linha de visibilidade
envolve, em troca, toda uma rede complexa de incertezas, de trocas e de
evasivas. O pintor só dirige os olhos para nós na medida em que nos
encontramos no lugar do seu motivo. Nós, espectadores, estamos em excesso.
Acolhidos sob esse olhar, somos por ele expulsos, substituídos por aquilo que
desde sempre se encontrava lá, antes de nós: o próprio modelo. Mas,
inversamente, o olhar do pintor, dirigido para fora do quadro, ao vazio que lhe
faz face, aceita tantos modelos quantos espectadores lhe apareçam; nesse lugar
preciso mas indiferente, o que olha e o que é olhado permutam-se
incessantemente. Nenhum olhar é estável, ou antes, no sulco neutro do olhar
que traspassa a tela perpendicularmente, o sujeito e o objeto, o espectador e o
modelo invertem seu papel ao infinito. E, na extremidade esquerda do quadro,
a grande tela virada exerce aí sua segunda função: obstinadamente invisível,
impede que seja alguma vez determinável ou definitivamente estabelecida a
relação dos olhares. A fixidez opaca que ela faz reinar num lado torna para
sempre instável o jogo das metamorfoses que, no centro, se estabelece entre o
espectador e o modelo. Porque só vemos esse reverso, não sabemos quem
somos nem o que fazemos. Somos vistos ou vemos? O pintor fixa atualmente
um lugar que, de instante a instante, não cessa de mudar de conteúdo, de forma,
de rosto, de identidade. Mas a imobilidade atenta de seus olhos remete a uma
outra direção, que eles já seguiram freqüentes vezes e que breve, sem dúvida
alguma, vão retomar: a da tela imóvel sobre a qual se traça, está talvez traçado,
desde muito tempo e para sempre, um retrato que jamais se apagará.
De sorte que o olhar soberano do pintor comanda um triângulo virtual, que
define em seu percurso esse quadro de um quadro: no vértice — único ponto
visível — os olhos do artista; na base, de um lado, o lugar invisível do modelo,
do outro, a figura provavelmente esboçada na tela virada.
No momento em que colocam o espectador no campo de seu olhar, os olhos
do pintor captam-no, constrangem-no a entrar no quadro, designam-lhe um
lugar ao mesmo tempo privilegiado e obrigatório, apropriam-se de sua
luminosa e visível espécie e a projetam sobre a superfície inacessível da tela
virada. Ele vê sua invisibilidade tornada visível ao pintor e transposta em
uma imagem definitivamente invisível a ele próprio. Surpresa que é
multiplicada e tornada ainda mais inevitável por um estratagema marginal.
Na extremidade direita, o quadro recebe sua luz de uma janela representada
segundo uma perspectiva muito curta; dela apenas se visualiza o vão; de sorte
que o fluxo de luz que ela espalha largamente banha ao mesmo tempo, com a
mesma generosidade, dois espaços vizinhos, entrecruzados, mas irredutíveis:
a superfície da tela, com o volume que ela representa (isto é, o ateliê do pintor,
ou a sala em que instalou seu cavalete), e, à frente dessa superfície, o volume
real que o espectador ocupa (ou então o lugar irreal do modelo).
E, percorrendo a sala da direita para a esquerda, a vasta luz dourada impele
ao mesmo tempo o espectador em direção ao pintor e o modelo em direção
à tela; é ela também que, iluminando o pintor, torna-o visível ao espectador e
faz brilhar como linhas de ouro, aos olhos do modelo, a moldura da tela
enigmática, onde sua imagem, transposta, vai se achar encerrada. Esta janela
encantoada, parcial, apenas indicada, libera uma luz inteira e mista que serve
de lugar-comum à representação. Ela equilibra, na outra extremidade do
quadro, a tela invisível: assim como esta, virando as costas aos espectadores,
se redobra contra o quadro que a representa e forma, pela superposição de
seu reverso visível sobre a superfície do quadro que a contém, o lugar, para
nós inacessível, onde cintila a Imagem por excelência; assim a janela, pura
abertura, instaura um espaço tão manifesto quanto o outro é oculto; tão comum
ao pintor, às personagens, aos modelos, aos espectadores quanto o outro é
solitário (pois ninguém o olha, nem mesmo o pintor). Da direita, derrama-se
por uma janela invisível o puro volume de uma luz que torna visível toda
representação; à esquerda, estende-se a superfície que encobre, do outro lado
de sua textura demasiado visível, a representação que ela contém. Inundando a
cena (quero dizer, tanto a sala quanto a tela, a sala representada na tela e a sala
onde a tela está colocada), a luz envolve as personagens e os espectadores,
impelindo-os, sob o olhar do pintor, em direção ao lugar onde seu pincel os vai
representar. Esse lugar, porém, nos é recusado. Olhamo-nos olhados pelo
pintor e tornados visíveis aos seus olhos pela mesma luz que no-lo faz ver.
E, no momento em que vamos nos apreender transcritos por sua mão como
num espelho, deste não podemos surpreender mais que o insípido reverso.
O outro lado de um reflexo.
Ora, exatamente em face dos espectadores — de nós mesmos — sobre a parede
que constitui o fundo da sala, o autor representou uma série de quadros; e eis
que, entre todas essas telas suspensas, uma dentre elas brilha com um clarão
singular. Sua moldura é mais larga, mais sombria que a das outras; uma fina
linha branca, no entanto, a duplica interiormente, difundindo sobre toda a sua
superfície uma luz dificilmente determinável; pois não vem de parte alguma
senão de um espaço que lhe seria interior. Nessa luz estranha aparecem duas
silhuetas e, acima delas, um pouco para trás, uma pesada cortina de púrpura.
Os outros quadros só dão a ver algumas manchas mais pálidas no limite de
uma noite sem profundeza. Esse, ao contrário, abre-se para um espaço em
recuo onde formas reconhecíveis se dispõem numa claridade que só a ele
pertence. Entre todos esses elementos destinados a oferecer representações,
mas que as contestam, as recusam, as esquivam por sua posição ou sua
distância, esse é o único que funciona com toda a honestidade e que dá a ver o
que deve mostrar. A despeito de seu distanciamento, a despeito da sombra que
o envolve. Mas não é um quadro: é um espelho. Ele oferece enfim esse
encantamento do duplo, que tanto as pinturas afastadas quanto a luz do
primeiro plano com a tela irônica recusavam.
De todas as representações que o quadro representa, ele é a única visível; mas
ninguém o olha. Em pé ao lado de sua tela, a atenção toda absorvida pelo seu
modelo, o pintor não pode ver esse espelho que brilha suavemente atrás dele.
As outras personagens do quadro estão, na maioria, voltadas também elas para
o que se deve passar à frente — para a clara invisibilidade que margeia a tela,
para esse átrio de luz, onde seus olhares têm para ver aqueles que os vêem, e não para essa cavidade
sombria pela qual se fecha o quarto onde estão representadas. Há, com efeito,
algumas cabeças que se oferecem de perfil: nenhuma, porém, suficientemente
virada para olhar, no fundo da sala, esse espelho desolado, pequeno retângulo
brilhante que nada mais é senão visibilidade, mas sem nenhum olhar capaz de
apossar-se dela, torná-la atual e comprazer-se no fruto, subitamente amadurecido, de seu espetáculo.
É preciso reconhecer que essa indiferença só se iguala à do espelho. Com
efeito, este nada reflete daquilo que se encontra no mesmo espaço que ele: nem
o pintor, que lhe volta as costas, nem as personagens no centro da sala. Em sua
clara profundidade, não é o visível que ele fita. Na pintura holandesa, era
tradição que os espelhos desempenhassem um papel de reduplicação:
repetiam o que era dado uma primeira vez no quadro, mas no interior de um espaço irreal, modificado,
estreitado, recurvo. Ali se via a mesma coisa que na primeira instância do
quadro, porém decomposta e recomposta segundo uma outra lei. Aqui o
espelho nada diz do que já foi dito. Sua posição, entretanto, é quase central:
sua borda superior está exatamente sobre a linha que reparte em duas a altura
do quadro, ocupa sobre a parede do fundo (ao menos sobre a parte visível
desta) uma posição mediana; deveria, pois, ser atravessado pelas mesmas linhas
perspectivas que o próprio quadro; poder-se-ia esperar que um mesmo ateliê,
um mesmo pintor, uma mesma tela nele se dispusessem segundo um espaço
idêntico; poderia ser o duplo perfeito.
Ora, ele não faz ver nada do que o próprio quadro representa. Seu olhar imóvel
vai captar à frente do quadro, nessa região necessariamente invisível que forma
sua face exterior, as personagens que ali estão dispostas. Em vez de girar em
torno de objetos visíveis, esse espelho atravessa todo o campo da representação,
negligenciando o que aí poderia captar, e restitui a visibilidade ao que
permanece fora de todo olhar. Mas essa invisibilidade que ele supera não é a do
oculto: não contorna o obstáculo, não desvia a perspectiva, endereça-se ao que
é invisível ao mesmo tempo pela estrutura do quadro e por sua existência como
pintura. O que nele se reflete é o que todas as personagens da tela estão fixando,
o olhar reto diante delas; é, pois, o que se poderia ver, se a tela se prolongasse
para a frente, indo mais para baixo, até envolver as personagens que servem de
modelos ao pintor. Mas é também, já que a tela se interrompe ali, dando a ver o
pintor e seu ateliê, o que está exterior ao quadro, na medida em que ele é quadro
, isto é, fragmento retangular de linhas e cores, encarregado de representar
alguma coisa aos olhos de todo espectador possível. No fundo da sala, ignorado
por todos, o espelho inesperado faz brilhar as figuras que o pintor olha (o pintor
e sua realidade representada, objetiva, de pintor trabalhando); mas também as
figuras que olham o pintor (nessa realidade material que as linhas e as cores
depositaram sobre a tela). Estas figuras são, uma e outra, igualmente
inacessíveis, mas de modo diferente: a primeira, por um efeito de composição
que é próprio ao quadro; a segunda, pela lei que preside à existência mesma de
todo quadro em geral. Aqui, o jogo da representação consiste em conduzir essas
duas formas de invisibilidade uma ao lugar da outra, numa superposição
instável — e em restituí-las logo à outra extremidade do quadro — a esse pólo
que é o mais altamente representado: o de uma profundidade de reflexo na
reentrância de uma profundidade de quadro. O espelho assegura uma metátese
da visibilidade que incide ao mesmo tempo sobre o espaço representado no
quadro e sua natureza de representação; faz ver, no centro da tela, aquilo que,
do quadro, é duas vezes necessariamente invisível.
Estranha maneira de aplicar ao pé da letra, mas invertendo-o, o conselho que o
velho Pachero dera, ao que parece, ao seu aluno, quando trabalhava no ateliê de
Sevilha: “A imagem deve sair da moldura.”
II
Mas talvez seja tempo de nomear enfim essa imagem que aparece no fundo do
espelho e que o pintor contempla à frente do quadro. Talvez valha a pena fixar
de vez a identidade das personagens presentes ou indicadas, para não nos
atrapalharmos infinitamente nestas designações flutuantes, um pouco abstratas,
sempre suscetíveis de equívocos e de desdobramentos: “o pintor”, “as personagens”,
“os espectadores”, “as imagens”. Em vez de prosseguir sem fim
numa linguagem fatalmente inadequada ao visível, bastaria dizer que Velásquez
compôs um quadro; que nesse quadro ele se representou a si mesmo no seu
ateliê, ou num salão do Escoriai, a pintar duas personagens que a infanta
Margarida vem contemplar, rodeada de aias, de damas de honor, de cortesãos e
de anões; que a esse grupo pode-se muito precisamente atribuir nomes: a
tradição reconhece aqui dona Maria Agustina Sarmiente, ali, Nieto, no primeiro
plano, Nicolaso Pertusato, bufão italiano. Bastaria acrescentar que as duas
personagens que servem de modelo ao pintor não são visíveis, ao menos
diretamente; mas que podemos distingui-las num espelho; que se trata, sem
dúvida, do rei Filipe IV e de sua esposa Mariana.
Esses nomes próprios constituiriam indícios úteis, evitariam designações
ambíguas; eles nos diriam, em todo o caso, o que o pintor olha e, com ele,
a maioria das personagens do quadro. Mas a relação da linguagem com a
pintura é uma relação infinita. Não que a palavra seja imperfeita e esteja, em
face do visível, num déficit que em vão se esforçaria por recuperar. São
irredutíveis uma ao outro: por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se
aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por
imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele
que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem.
Ora, o nome próprio, nesse jogo, não passa de um artifício: permite mostrar
com o dedo, quer dizer, fazer passar sub-repticiamente do espaço onde se fala
para o espaço onde se olha, isto é, ajustá-los comodamente um sobre o outro
como se fossem adequados. Mas, se se quiser manter aberta a relação entre a
linguagem e o visível, se se quiser falar não de encontro a, mas a partir de sua
incompatibilidade, de maneira que se permaneça o mais próximo possível de
uma e de outro, é preciso então pôr de parte os nomes próprios e meter-se no
infinito da tarefa. É, talvez, por intermédio dessa linguagem nebulosa,
anônima, sempre meticulosa e repetitiva, porque demasiado ampla, que a
pintura, pouco a pouco, acenderá suas luzes.
É preciso, pois, fingir não saber quem se refletirá no fundo do espelho e
interrogar esse reflexo ao nível de sua existência.
De início, ele é o verso da grande tela representada à esquerda. O verso ou,
antes, a face dianteira, pois que mostra de frente o que ela, por sua posição,
esconde. Ademais, opõe-se à janela e a reforça. Como ela, é um lugar-comum
ao quadro e ao que lhe é exterior. A janela, porém, opera pelo movimento
contínuo de uma efusão que, da direita para a esquerda, agrega às personagens
atentas, ao pintor, ao quadro, o espetáculo que contemplam; já o espelho, por
um movimento violento, instantâneo e de pura surpresa, vai buscar, à frente do
quadro, aquilo que é olhado mas não visível, a fim de, no extremo da
profundidade fictícia, torná-lo visível mas indiferente a todos os olhares.
O pontilhado imperioso que está traçado entre o reflexo e o que ele reflete
corta perpendicularmente o fluxo lateral da luz. Enfim — e é a terceira função
desse espelho — ele põe em paralelo uma porta que, como ele, se abre na
parede do fundo. Também ela recorta um retângulo claro, cuja luz fosca não
se irradia pela sala. Não passaria de uma placa dourada, não estivesse ela
aberta para fora através de um batente esculpido, da curva de uma cortina e
da sombra de vários degraus. Aí começa um corredor; mas, em vez de se
perder em meio à obscuridade, ele se dissipa num brilho amarelo, cuja luz,
sem entrar, rodopia em torno de si mesma e repousa. Sobre esse fundo, ao
mesmo tempo próximo e sem limite, um homem destaca sua alta silhueta; ele é
visto de perfil; com uma das mãos retém o peso de um cortinado; seus pés estão
pousados sobre dois degraus diferentes; tem o joelho dobrado. Talvez vá entrar
na sala; talvez se limite a espiar o que se passa no interior, contente de
surpreender sem ser observado. Tal como o espelho, fixa o verso da cena: tanto
quanto ao espelho, ninguém lhe presta atenção. Não se sabe donde vem; pode-se
supor que, seguindo por incertos corredores, contornou a sala onde as
personagens estão reunidas e onde trabalha o pintor; talvez estivesse, há pouco,
também ele à frente da cena, na região invisível que é contemplada por todos
os olhos do quadro. Como as imagens que se distinguem no fundo do espelho,
é possível que ele seja um emissário desse espaço evidente e escondido. Há,
no entanto, uma diferença: ele está ali em carne e osso; surgiu de fora, no
limiar da área representada; ele é indubitável — não um reflexo provável, mas
uma irrupção. O espelho, fazendo ver, para além mesmo dos muros do ateliê,
o que se passa à frente do quadro, faz oscilar, na sua dimensão sagital, o
interior e o exterior. Com um pé sobre o degrau e o corpo inteiramente de
perfil, o visitante ambíguo entra e sai ao mesmo tempo, num balancear imóvel.
Ele repete, sem sair do lugar, mas na realidade sombria de seu corpo, o
movimento instantâneo das imagens que atravessam a sala, penetram no
espelho, nele se refletem e dele ressaltam como espécies visíveis, novas e
idênticas. Pálidas, minúsculas, essas silhuetas no espelho são recusadas pela
alta e sólida estatura do homem que surge no vão da porta.
Cumpre, no entanto, retornar do fundo do quadro em direção à frente da cena;
é preciso abandonar esse circuito cuja voluta se acaba de percorrer. Partindo do
olhar do pintor que, à esquerda, constitui como que um centro deslocado,
distingue-se primeiro o reverso da tela, depois os quadros expostos, com o
espelho no centro, a seguir a porta aberta, novos quadros, cuja perspectiva,
porém, muito aguda, só deixa ver as molduras em sua densidade, enfim, à
extremidade direita a janela, ou, antes, a fenda por onde se derrama a luz. Essa
concha em hélice oferece todo o ciclo da representação: o olhar, a palheta e o
pincel, a tela inocente de signos (são os instrumentos materiais da representação),
os quadros, os reflexos, o homem real (a representação acabada, mas como
que liberada de seus conteúdos ilusórios ou verdadeiros que lhe são
justapostos); depois, a representação se dilui: só se vêem as molduras e essa
luz que, do exterior, banha os quadros, os quais, contudo, devem em troca
reconstituir à sua própria maneira, como se ela viesse de outro lugar,
atravessando suas molduras de madeira escura. E essa luz, vemo-la, com
efeito, no quadro, parecendo emergir no interstício da moldura; e de lá ela
alcança a fronte, as faces, os olhos, o olhar do pintor que segura numa das
mãos a palheta e, na outra, o fino pincel… Assim se fecha a voluta, ou melhor, por essa luz, ela se abre.
Essa abertura não é mais, como no fundo, uma porta que se abriu; é a própria
amplitude do quadro, e os olhares que por ela passam não são de um visitante
longínquo. O friso que ocupa o primeiro e o segundo planos do quadro
representa — se se incluir o pintor — oito personagens. Cinco delas, a cabeça
mais ou menos inclinada, virada ou abaixada, olham na direção perpendicular
do quadro. O centro do grupo é ocupado pela pequena infanta, com seu amplo
vestido cinza e rosa. A princesa vira a cabeça para a direita do quadro,
enquanto seu busto e os grandes folhos do vestido pendem ligeiramente para
a esquerda; o olhar, porém, dirige-se aprumado na direção do espectador que
se acha em face do quadro. Uma linha mediana que dividisse a tela em duas
alas iguais passaria entre os dois olhos da criança. Seu rosto está a um terço
da altura total do quadro. De sorte que aí reside, sem dúvida, o tema principal
da composição; aí, o objeto mesmo dessa pintura. Como que para prová-lo e
melhor sublinhá-lo, o autor recorreu a uma figura tradicional: ao lado da
personagem principal, colocou outra, ajoelhada, que a olha. Como um
ofertante em prece, como o Anjo saudando a Virgem, uma governanta de
joelhos estende as mãos para a princesa. Seu rosto se recorta num perfil
perfeito. Está à altura do da criança. A aia olha para a princesa e só para ela.
Um pouco mais à direita, outra dama de honor, voltada também para a infanta,
ligeiramente inclinada acima dela, mas com os olhos claramente dirigidos para
a frente, lá onde já olham o pintor e a princesa. Enfim, dois grupos de duas
personagens: um, em recuo; outro, composto de anões, no primeiro plano.
Em cada par, uma personagem olha em frente, a outra à direita ou à esquerda.
Por sua posição e por sua proporção, esses dois grupos se correspondem e se
emparelham: atrás, os cortesãos (a mulher, à esquerda, olha para a direita); à
frente, os anões (o rapaz que está na extremidade direita olha para o interior
do quadro). Esse conjunto de personagens assim dispostas pode constituir,
conforme a atenção que se dê ao quadro ou o centro de referência que se
escolha, duas figuras. Uma seria um grande X; no ponto superior esquerdo
estaria o olhar do pintor e, à direita, o do cortesão; na ponta inferior, do lado
esquerdo, está o canto da tela representada de costas (mais exatamente, o pé
do cavalete); do lado direito, o anão (com o calçado deposto sobre o dorso do
cão). No cruzamento dessas duas linhas, no centro do X, o olhar da infanta.
A outra figura seria antes a de uma vasta curva; suas duas pontas seriam
determinadas pelo pintor à esquerda e pelo cortesão à direita — extremidades
altas e recuadas; o recôncavo, bem mais aproximado, coincidiria com o rosto
da princesa e com o olhar que a aia lhe dirige. Essa tênue linha desenha uma
concha que, ao mesmo tempo, encerra e libera, no meio do quadro, a localização do espelho.
Há, pois, dois centros que podem organizar o quadro, conforme a atenção do
espectador divague e se prenda aqui ou ali. A princesa mantém-se de pé no
meio de uma cruz de Santo André, que gira em torno dela com o turbilhão dos
cortesãos, damas de honor, animais e bufões. Mas essa rotação é fixa. Fixa
por um espetáculo que seria absolutamente invisível se essas mesmas
personagens, subitamente imóveis, não oferecessem, como que no vão de uma
taça, a possibilidade de olhar no fundo de um espelho, o dúplice imprevisto de
sua contemplação. No sentido da profundidade, a princesa se superpõe ao
espelho; no da altura, é o reflexo que se superpõe ao rosto. Mas a perspectiva
os torna muito próximos um do outro. Ora, cada um deles emana uma linha
inevitável; uma, saída do espelho, transpõe toda a espessura representada
(e mesmo além dela, já que o espelho perfura a parede do fundo e faz nascer
atrás dela um outro espaço); a outra é mais curta; vem do olhar da criança e só
atravessa o primeiro plano. Essas duas linhas sagitais são convergentes,
segundo um ângulo muito agudo, e o ponto de seu encontro, saindo da tela, se
fixa à frente do quadro, mais ou menos lá de onde o olhamos. Ponto duvidoso,
pois que não o vemos; ponto, porém, inevitável e perfeitamente definido, pois
que é prescrito por essas duas figuras mestras e confirmado ainda por outros
pontilhados adjacentes que nascem do quadro e que também dele escapam.
Que há, enfim, nesse lugar perfeitamente inacessível, porquanto exterior ao
quadro, mas prescrito por todas as linhas de sua composição? Que espetáculo é
esse, quem são esses rostos que se refletem primeiro no fundo das pupilas da
infanta, depois dos cortesãos e do pintor e, finalmente, na claridade longínqua
do espelho? Mas a questão logo se desdobra: o rosto que o espelho reflete é
igualmente aquele que o contempla; o que todas as personagens do quadro
olham são também as personagens a cujos olhos elas são oferecidas como
uma cena a contemplar; o quadro como um todo olha a cena para a qual ele é,
por sua vez, uma cena. Pura reciprocidade que manifesta o espelho que olha e
é olhado, e cujos dois momentos são desprendidos nos dois ângulos do quadro:
à esquerda a tela virada, pela qual o ponto exterior se torna puro espetáculo; à
direita o cão estirado, único elemento do quadro que não olha nem se mexe,
porque ele, com seus fortes relevos e a luz que brinca em seus pelos sedosos, só é feito para ser um
objeto a ser olhado.
O primeiro olhar lançado ao quadro nos ensinou de que é constituído esse
espetáculo-de-olhares. São os soberanos. Adivinhamo-los já no olhar respeitoso
da assistência, no espanto da criança e dos anões. Reconhecemo-los, no fundo
do quadro, nas duas pequenas silhuetas que o espelho reflete. Em meio a todos
esses rostos atentos, a todos esses corpos ornamentados, eles são a mais pálida,
a mais irreal, a mais comprometida de todas as imagens; um movimento, um
pouco de luz bastariam para fazê-los desvanecer-se. De todas as personagens
representadas, elas são também as mais desprezadas, pois ninguém presta
atenção a esse reflexo que se esgueira por trás de todo o mundo e se introduz
silenciosamente por um espaço insuspeitado; na medida em que são visíveis,
são a forma mais frágil e mais distante de toda realidade. Inversamente, na
medida em que, residindo no exterior do quadro, se retiraram para uma
invisibilidade essencial, ordenam em torno delas toda a representação; é diante
delas que as coisas estão, é para elas que se voltam, é a seus olhos que se mostra
a princesa em seu vestido de festa; da tela virada à infanta e desta ao anão que
brinca na extremidade direita, desenha-se uma curva (ou então, abre-se o
braço inferior do X) para ordenar em relação a eles toda a disposição do
quadro e fazer aparecer, assim, o verdadeiro centro da composição, ao qual o
olhar da infanta e a imagem no espelho estão finalmente submetidos.
Esse centro é simbolicamente soberano na sua particularidade histórica, já que é
ocupado pelo rei Filipe IV e sua esposa. Mas, sobretudo, ele o é pela tríplice
função que ocupa em relação ao quadro. Nele vêm superpor-se exatamente o
olhar do modelo no momento em que é pintado, o do espectador que
contempla a cena e o do pintor no momento em que compõe seu quadro
(não o que é representado, mas o que está diante de nós e do qual falamos).
Essas três funções “olhantes” confundem-se em um ponto exterior ao quadro:
isto é, ideal em relação ao que é representado, mas perfeitamente real,
porquanto é a partir dele que se torna possível a representação; nessa realidade
mesma, ele não pode deixar de ser invisível. E, contudo, essa realidade é
projetada no interior do quadro — projetada e difratada em três figuras que
correspondem às três funções desse ponto ideal e real. São elas: à esquerda,
o pintor com sua palheta na mão (auto-retrato do autor do quadro); à direita o
visitante, com um pé sobre o degrau, prestes a entrar na sala; ele capta ao
revés toda a cena, mas vê de frente o par real, que é o próprio espetáculo; no
centro, enfim, o reflexo do rei e da rainha, ornamentados, imóveis, na atitude de pacientes modelos.
Tal reflexo mostra ingenuamente, e na sombra, aquilo que todos olham no
primeiro plano. Restitui, como que por encanto, o que falta a cada olhar: ao do
pintor, o modelo que é recopiado no quadro pelo seu duplo representado; ao do
rei, seu retrato que se completa nesse lado da tela que ele não pode distinguir do
lugar em que está; ao do espectador, o centro real da cena, cujo lugar ele
assumiu como que por intrusão. Mas talvez essa generosidade do espelho seja
simulada; talvez esconda tanto ou mais do que manifesta. O lugar onde impera o
rei com sua esposa é também o do artista e o do espectador: no fundo do
espelho poderiam aparecer — deveriam aparecer — o rosto anônimo do
transeunte e o de Velásquez. Pois a função desse reflexo é atrair para o interior
do quadro o que lhe é intimamente estranho: o olhar que o organizou e aquele
para o qual ele se desdobra. Mas, por estarem presentes no quadro, à direita e
à esquerda, o artista e o visitante não podem estar alojados no espelho: do
mesmo modo o rei aparece no fundo do espelho, na medida mesma em que não faz parte do quadro.
Na grande voluta que percorria o perímetro do ateliê, desde o olhar do pintor,
sua palheta e sua mão suspensa, até os quadros terminados, a representação
nascia, completava-se para se desfazer novamente na luz; o ciclo era perfeito.
Em contrapartida, as linhas que atravessam a profundidade do quadro são
incompletas; falta, a todas, uma parte de seu trajeto. Essa lacuna é devida à
ausência do rei — ausência que é um artifício do pintor. Mas esse artifício
recobre e designa um lugar vago que é imediato: o do pintor e do espectador
quando olham ou compõem o quadro. É que, nesse quadro talvez, como em
toda representação de que ele é, por assim dizer, a essência manifestada, a
invisibilidade profunda do que se vê é solidária com a invisibilidade daquele
que vê — malgrado os espelhos, os reflexos, as imitações, os retratos. Em
torno da cena estão depositados os signos e as formas sucessivas da
representação; mas a dupla relação da representação com o modelo e com o
soberano, com o autor e com aquele a quem ela é dada em oferenda, essa
relação é necessariamente interrompida. Ela jamais pode estar toda presente,
ainda quando numa representação que se desse a si própria em espetáculo. Na profundidade que
atravessa a tela, que a escava ficticiamente e a projeta para a frente dela
própria, não é possível que a pura felicidade da imagem ofereça alguma vez,
em plena luz, o mestre que
representa e o soberano representado.
Talvez haja, neste quadro de Velásquez, como que a representação da
representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Com efeito, ela
intenta representar-se a si mesma em todos os seus elementos, com suas
magens, os olhares aos quais ela se oferece, os rostos que torna visíveis, os
gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa dispersão que ela reúne e exibe em
conjunto, por todas as partes um vazio essencial é imperiosamente
indicado: o desaparecimento necessário daquilo que a funda — daquele a
quem ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não passa de semelhança.
Esse sujeito mesmo — que é o mesmo — foi elidido. E livre, enfim, dessa
relação que a acorrentava, a representação pode se dar como pura representação.
*Publicado em: FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
**Tradução de Salma Tannus Muchail.